Não existe "publicidade infantil"

O artigo Publicidade infantil? Ministro da Justiça desconhece, mas ela já é ilegal", publicado em 11/02 no UOL por Pedro Hartung, coordenador dos programas Criança e Consumo e Prioridade Absoluta do Instituto Alana, contém algumas distorções, outras imprecisões e equívocos nas conclusões.
Comece-se pela distorção, que neste caso é conceitual: ao contrário do que diz o texto, não existe "publicidade infantil". O infeliz termo, afinal, é técnico, porque seria "publicidade infantil" a propaganda estrelada por crianças, a que conta uma historinha, a que é roteirizada, produzida, alocada por crianças? O correto a se dizer é "publicidade de produtos e serviços consumidos por crianças".
Bem a propósito, a comunicação de tais itens, ao contrário do que arrisca o artigo, está sustentada por pelo menos 22 normas, mais do que o Reino Unido, com 16 normas, e que os Estados Unidos, com 15. Além disso, a regulamentação existente hoje e presente tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (Conar), que cumpre com grande competência seu papel há 40 anos, com regras aplicáveis a todos os anunciantes justamente para assegurar a ética na publicidade. O artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é o texto mais detalhado e profundo a respeito de como o anunciante deve se comunicar quando anuncia itens consumidos por crianças.
Cenário de insegurança e instabilidade
O artigo é infeliz. Trata do assunto da publicidade de itens infantis como se já fosse "pacificado em nossa sociedade". Não há qualquer pacificação, ao revés, há um cenário de insegurança e instabilidade que paulatinamente demoveu anunciantes de bens para crianças, licitamente ofertados em mercado, a persistirem em campanhas que eram vergastadas em ações orquestradas para dissuadi-los —notificações ameaçadoras, "denúncias" a órgãos e instituições, notas em grandes veículos —, o que causava indefectível "chilling effect", o efeito resfriador do discurso, uma das principais vertentes da censura nos dias de hoje.
Houve um venerável trabalho de construção de uma proibição que não existe. Para isso, valeram-se de estudos de instituições de renome sem qualquer base empírica e repletos de ilações; mudanças ocasionais no discurso (ora "queremos a proibição", ora "não queremos a proibição, mas a regulação", ora "a publicidade é ilegal pela resolução do Conanda", e, mais recentemente, "o Código de Defesa do Consumidor já proíbe a 'publicidade infantil'"); alianças com órgãos e outras entidades, tudo a formar um caldo com base em repetições que, nada obstante não se sustentarem, se solidificaram no inconsciente coletivo e não enfrentaram resistência hábil para debelá-las.
Não, "publicidade infantil" não é prática abusiva. Não há nada na legislação que a defina assim, mas apenas uma construção um pouco obtusa, fragmentada e parcial —para não dizer forçada —nesse sentido.
O que é abusivo, no regular do CDC, é a publicidade "que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança". Quando o legislador usou o verbo "aproveitar", remeteu ao intérprete a tarefa de analisar caso a caso se houve aproveitamento. Nada mais correto: a figura do abuso deve ser aferida em casos concretos.
Se o legislador pretendesse, diria: "Toda a publicidade de itens para crianças é abusiva". Não o fez, acertadamente. Por vias tortas, interessados pretendem atribuir essa visão forçada ao dispositivo. Mas isso não se mantém em pé. Os próprios julgamentos do STJ a que alude o artigo trataram de casos concretos e suas decisões não têm efeitos gerais e abstratos, portanto é mentira que o STJ proibiu a "publicidade infantil".
No decorrer do respondido artigo, o autor revela sua pretensão: partindo do pressuposto que pais e responsáveis são inaptos a refrear os desejos de seus filhos, arvora-se na altivez de proclamar o que é adequado para todo o mundo, brandindo uma proibição.
O trecho "culpam justamente as famílias, já tão sobrecarregadas, pelo fato de não dizerem 'não' aos desejos infantis implantados pela sedução da publicidade". Com todo o respeito, isso não pode ser levado a sério: então: a) as famílias são incapazes de educar seus filhos; por isso b) a sociedade civil e o Estado tem de fazê-los; impondo c) a proibição do direito de anunciar produtos legais, já que; d) a publicidade seduz as crianças, transformando-os em autômatos, robôs.
Ora, esse discurso, no fim, casa com uma atitude extremamente autoritária, que desconsidera a autonomia das famílias, o poder de crítica dos pais, a direção da educação de seu filhos (o que está na Constituição e no ECA), arvorando-se no pálio da bem aventurança e do todo-poder de dizer aos outros o que eles podem e o que eles não podem assistir.
O artigo perde qualquer réstia de credibilidade que ainda possuiria quando trata de "sobrepeso e erotização". Para o autor, a publicidade erotiza meninas e causa obesidade. A pergunta é: tem provas disso? Se não tem, esses pensamentos não passam de ilações.
Do mesmo jeito que o autor fala no "estudo da The Economist" —o mesmo em que seus autores deixam claro, ao final do documento, que não podem assegurar que os resultados estão efetivamente corretos —e omite o estudo da Consultoria GO Associados, que aponta que a proibição da publicidade de itens infantis causaria impacto econômico de mais de R$ 35 bilhões, o autor fala em ECA, CDC e Constituição, mas omite os próprios ECA, CDC e Constituição, além da Lei de Liberdade Econômica, todos a garantir ao anunciante a possibilidade de comunicar seus produtos e serviços, ainda que consumidos por crianças, sempre de maneira lícita e ética, seguindo as boas práticas na publicidade.
As entidades defendidas no artigo estão com temor da regulação da Senacon porque ela representa uma perda no terreno por elas ganhado ao longo de mais de dez anos: relativiza a malfadada e inconstitucional e ilegal Resolução 163 do Conanda, o equivocado discurso da proibição pelo STJ, a errônea interpretação que ECA, CDC e Constituição proíbem a "publicidade infantil". E, para isso, o articulista abre um arsenal de impropriedades e equívocos.
É óbvio que a ausência de programação infantil na TV aberta, que é financiada por publicidade, caiu deveras em função da crença dissuadida pelos setores da sociedade civil que pregam que a "publicidade infantil" é proibida —nesse sentido, hoje, esse pessoal prova do mesmo veneno que aplicou.
Anunciantes não queriam mais receber cartas ameaçadoras e pararam de anunciar; sem verba, a produção parou de ser financiada. É tão difícil compreender esse raciocínio? O ministro Sérgio Moro está certo, a programação infantil sumiu da TV aberta porque não há publicidade, isso em função da ação dos mesmos que hoje bradam por uma ilegalidade que não existe.
Por fim, é interessante saber de que época exatamente o articulista falava quando havia desenhos sem publicidade sábado de manhã. Não consta que não havia publicidade de brinquedos, roupas infantis, papelaria, acessórios para crianças e toda uma gama de licenciamento dos apresentadores nos intervalos de programas como o Xou da Xuxa, Mara Maravilha, Balão Mágico, TV Colosso, entre outros. Seria interessante se o articulista provasse o que alegou.
De sua parte, a ABRAL continua com sua missão de disseminar as melhores práticas nesse campo, por intermédio da educação no setor onde atua. Faz isso pela crença de que a comunicação responsável colabora com o desenvolvimento da sociedade, em um ambiente saudável e dinâmico. Na defesa da liberdade e da norma.






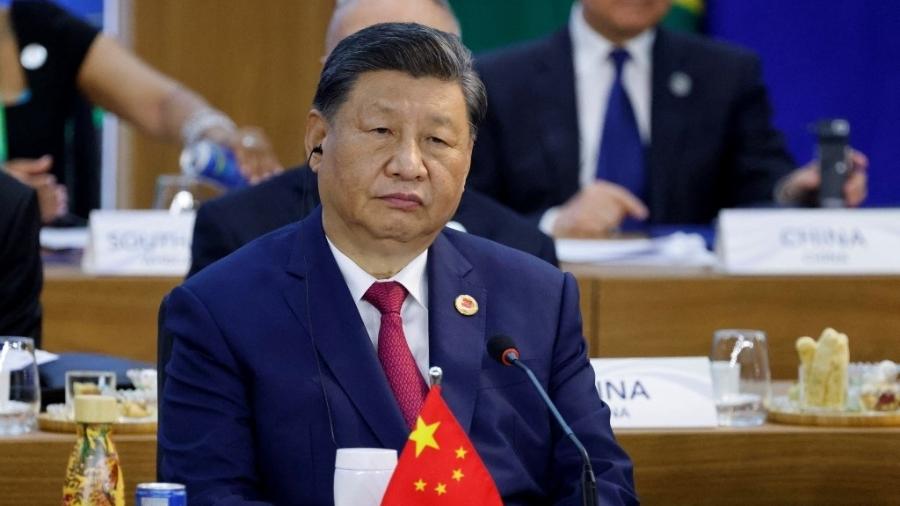












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.