Equidade racial nas empresas não é nada mais que obrigação
Sempre me chamou a atenção o fato de no Brasil expressarmos nossa nacionalidade por meio de adjetivo pátrio que remete à profissão. Afinal é esse o papel, em geral, do sufixo "eiro" na língua portuguesa: carpinteiro, marceneiro, pedreiro.
Em breve pesquisa, cheguei a uma explicação de que "brasileiro" foi termo pejorativo por muitos anos, já que remete à profissão de tirador do pau-brasil, desempenhada por criminosos, mandados ao Brasil pela Coroa Portuguesa.
Nesse sentido, o vocábulo caracteriza um projeto de exploração e não de construção de uma sociedade, um país, interagindo com quem já se encontrava em solo sul-americano.
Feita a digressão, não surpreende, portanto, que as marcas deste modelo de desenvolvimento, alicerçado no colonialismo e no escravismo, ainda estejam tão presentes nas mentes e corações de muitos, como os que se incomodam com programas de trainee de empresas focados em jovens negros, a exemplo do que foi lançado pelo Magazine Luiza.
Esta visão nos impede de construir um projeto de sociedade coesa, com identidade fundamentada em sua diversidade humana, riqueza que deveria ser valorizada já que rara no mundo.
Em um país cuja matriz de desigualdades se inicia pelo racismo, que a um só tempo expropria o trabalho e ainda causa genocídios de negros e indígenas, naturaliza-se paisagem social em que estes grupos sejam vistos como destinados à exclusão, o que impacta principalmente sua juventude.
Vale lembrar que enquanto os Estados Unidos promoviam, ainda que temporariamente, direitos civis para a população negra, bem como medidas de indenização e integração, durante o período conhecido como Reconstruction, após finalizada a Guerra da Secessão (1865), no Brasil, editava-se a Lei do Ventre Livre (1871).
Seu artigo 1º libertava os filhos das mulheres escravizadas, mas os colocava sob custódia do senhor de escravos, que deveria receber uma indenização do estado, quando a criança completasse oito anos, ou poderia exigir compensação da própria criança, com seu trabalho forçado até os 21 anos, em clara medida de institucionalização do trabalho infantil, não por acaso ainda hoje muito maior entre crianças negras.
Nesse mesmo período, intensificava-se no Brasil o imigrantismo europeu como alternativa para os crescentes postos de trabalho assalariado.
A população negra, cujo trabalho foi considerado qualificado por séculos para atividades variadas e complexas durante o escravismo, ironicamente torna-se não qualificado para a nova era, a partir da abolição formal da escravatura, relegando negras e negros ao desemprego em massa, fundamentando ainda a base do trabalho informal no país, sem proteção social.
No entanto, mesmo com a eloquência dos números de relatórios atuais sobre desigualdades raciais no trabalho, há quem insista em não acreditar. Nada surpreendente em um momento histórico em que narrativas valem mais do que fatos.
Assim, infelizmente, é com estarrecedora normalidade (este é o velho normal no Brasil) que encaro os levantes reacionários contra um programa de trainees que busca tão somente dar cumprimento a uma obrigação prevista no Estatuto da Igualdade Racial, em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção 111 da OIT e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, bem como na própria Constituição, cujo artigo 170, inciso VII, relaciona entre outros princípios que devem reger a ordem econômica no Brasil, a redução das desigualdades sociais, o que, no caso brasileiro, não pode ser feito sem programas que combatam o racismo, em sua estrutura, e promovam a equidade racial.




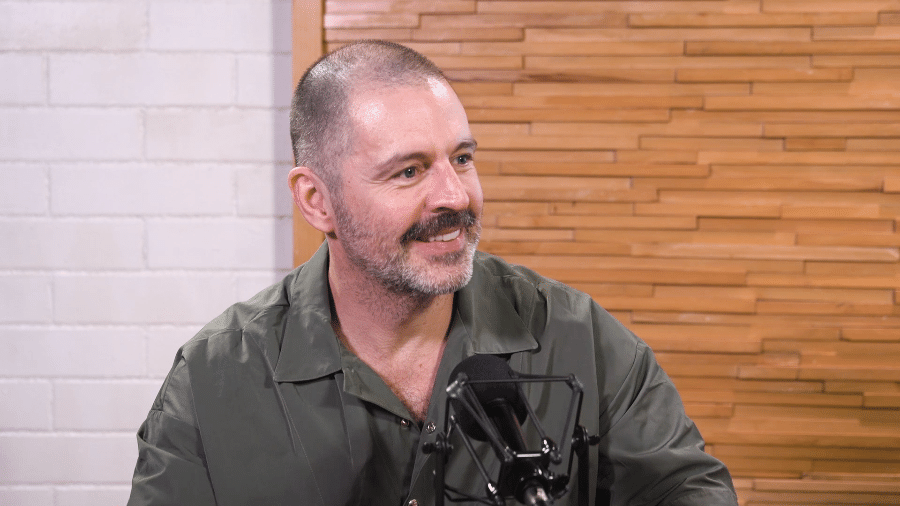







ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.